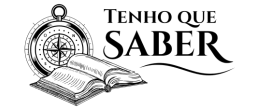Sumário
ToggleNos últimos anos, o Brasil tem apresentado indicadores positivos no mercado de trabalho, com a taxa de desemprego registrando quedas significativas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa, que chegou a 14,7% em 2020, caiu para cerca de 8% em 2024. Essa tendência, à primeira vista, representa uma melhora substancial no panorama econômico e social do país. No entanto, paralelamente a essa recuperação, os gastos do governo federal com programas de transferência de renda e benefícios sociais continuam elevados, o que tem gerado perplexidade em parte da população e especialistas da área econômica.
Essa aparente contradição — o crescimento do número de trabalhadores empregados ao mesmo tempo em que os repasses sociais aumentam, evidencia uma realidade mais complexa. Ela revela não apenas a fragilidade estrutural do mercado de trabalho brasileiro, mas também os desafios históricos de desigualdade, exclusão social e a persistente informalidade que compromete a autonomia financeira de milhões de famílias.
Emprego em Alta: a Ilusão do Pleno Emprego e a Informalidade Estrutural
Embora o número de trabalhadores ocupados tenha crescido, é fundamental fazer uma distinção entre “ter um emprego” e “ter um trabalho digno, estável e remunerador”. Boa parte dos postos de trabalho gerados recentemente está inserida na informalidade, que ainda representa cerca de 39% da força de trabalho do país — o equivalente a mais de 38 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE de 2024.
Essa informalidade se manifesta de diversas formas: desde trabalhadores por conta própria sem CNPJ, passando por empregos temporários sem carteira assinada, até pessoas que atuam em regimes de intermitência, ganhando por demanda e sem previsibilidade de renda. Nesse cenário, a ocupação não representa necessariamente uma melhoria nas condições de vida. Pelo contrário, muitos trabalhadores continuam sem acesso à previdência, plano de saúde, FGTS ou qualquer tipo de garantia trabalhista.
Além disso, a ascensão do trabalho por aplicativo, que foi acelerada durante a pandemia, criou uma nova massa de trabalhadores precarizados. Embora ofereça alguma renda, esse modelo impõe jornadas longas, ausência de proteção social e alta vulnerabilidade econômica. A classificação desses trabalhadores como “autônomos” oculta a dependência estrutural de plataformas e a insegurança que enfrentam diariamente.
O Papel dos Benefícios Sociais: Proteção, Compensação e Sobrevivência
Os programas sociais do governo, como o Bolsa Família, o Auxílio Gás, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e, anteriormente, o Auxílio Emergencial, têm papel essencial na mitigação da pobreza extrema. Esses repasses diretos foram responsáveis por tirar milhões de brasileiros da linha da miséria, especialmente durante o colapso econômico provocado pela pandemia de COVID-19.
Contudo, mesmo com a recuperação da economia e a retomada das atividades produtivas, os efeitos da crise sanitária persistem em muitas famílias. A insegurança alimentar ainda atinge mais de 33 milhões de brasileiros, conforme relatório da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (PENSSAN). Além disso, o aumento no custo de vida — com destaque para alimentos, energia e transporte — pressiona os orçamentos domésticos, sobretudo nas camadas mais pobres.
Esse cenário reforça a necessidade de manter ou até ampliar os benefícios sociais, que funcionam como uma espécie de “oxigênio” para famílias que, embora estejam trabalhando, não conseguem garantir o básico. De fato, em muitas regiões, especialmente no Norte e Nordeste, os repasses do governo representam mais de 60% da renda domiciliar total.
Gastos Públicos e Sustentabilidade Fiscal: Entre a Proteção Social e o Risco de Desequilíbrio
É necessário, contudo, destacar o impacto fiscal desses programas. Em 2023, o orçamento federal destinado a transferências de renda ultrapassou R$ 280 bilhões. Em um país que já apresenta elevados níveis de endividamento público — com a dívida bruta chegando a quase 76% do PIB —, o aumento contínuo de gastos assistenciais sem uma contrapartida em arrecadação ou crescimento sustentável gera riscos significativos à saúde fiscal do Estado.
O desafio é equilibrar o compromisso com a proteção social com a necessidade de manter as contas públicas em ordem. Embora haja espaço para políticas redistributivas, elas precisam ser acompanhadas de reformas estruturais — como a tributária, que corrige distorções regressivas e amplia a base de arrecadação — e de cortes em despesas improdutivas.
A armadilha do populismo fiscal, no entanto, é uma ameaça constante. Governos podem ser tentados a manter programas sociais com alto apelo popular mesmo em momentos de bonança econômica, visando ganhos eleitorais. Essa prática, embora politicamente eficaz no curto prazo, pode comprometer o futuro do país, prejudicando a capacidade de investimento em setores estratégicos como infraestrutura, educação e inovação.
Crescimento Econômico x Inclusão Produtiva: o Paradoxo Brasileiro
O Brasil vive um paradoxo: cresce em números absolutos, mas esse crescimento não é necessariamente inclusivo. A elevação do PIB e a geração de empregos não têm sido suficientes para integrar amplamente a população aos benefícios do desenvolvimento. Isso ocorre porque a estrutura produtiva ainda é concentrada, o acesso à educação de qualidade é desigual e as oportunidades de ascensão social continuam restritas.
O problema, portanto, não é apenas econômico, mas estrutural e histórico. Um país que por séculos excluiu a maioria da população do mercado formal e das redes de proteção precisa de mais do que crescimento — precisa de transformação. A dependência de auxílios, nesse contexto, não é simplesmente resultado de preguiça ou oportunismo, como alguns discursos políticos sugerem, mas sim consequência direta de um sistema que falhou em oferecer oportunidades reais de emancipação social e econômica.
Soluções Possíveis: do Assistencialismo à Autonomia
Romper esse ciclo de dependência exige ações articuladas e intersetoriais. Entre elas, destacam-se:
-
Investimento em educação e qualificação profissional: Um trabalhador mais preparado tem mais chances de conseguir um emprego formal, com melhores salários e estabilidade. A educação técnica e profissionalizante, aliada ao ensino superior acessível, é essencial para promover mobilidade social.
-
Políticas de formalização e fomento ao microempreendedorismo: Incentivar a formalização de pequenos negócios e oferecer linhas de crédito com juros baixos podem gerar empregos sustentáveis, especialmente nas periferias urbanas e áreas rurais.
-
Reforma tributária justa: Um sistema tributário progressivo, que taxe mais a renda e o patrimônio e alivie o consumo, permitirá maior justiça social e abrirá espaço para investimentos públicos mais eficazes.
-
Transição dos programas sociais para incentivos produtivos: Benefícios como o Bolsa Família poderiam, gradualmente, incluir mecanismos que premiem a permanência na escola, o empreendedorismo e a inserção formal no mercado de trabalho.
Conclusão: Mais do que Números, o Brasil Precisa de Equidade
O aumento dos gastos com benefícios sociais em um cenário de desemprego em queda não é uma contradição sem explicação. Na verdade, reflete a dura realidade de um país onde emprego nem sempre significa renda suficiente, dignidade ou estabilidade. A informalidade, a precarização e o custo de vida elevado mantêm milhões de brasileiros dependentes de auxílios para sobreviver.
Enquanto o país não promover reformas profundas que unam crescimento econômico à justiça social, os programas de transferência de renda continuarão sendo não apenas necessários, mas indispensáveis. No entanto, para que essa dependência não se torne crônica, é urgente investir em políticas de inclusão produtiva, educação de qualidade e desenvolvimento regional.
Somente com uma visão estratégica, que vá além dos ciclos eleitorais, o Brasil poderá transformar seus indicadores de emprego em indicadores reais de bem-estar. O desafio é grande, mas o custo de não enfrentá-lo é ainda maior.